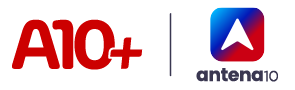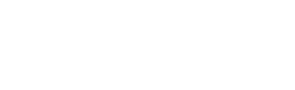📲 Siga o A10+ no Instagram, Facebook e Twitter.
A política brasileira tem uma capacidade peculiar de produzir imagens que atravessam governos, partidos e ideologias. Em diferentes momentos históricos, o enredo se repete, mudam apenas os personagens e os recipientes. O “saco preto” da Operação Galho Fraco entra nessa galeria não como novidade absoluta, mas como atualização de uma iconografia antiga: a do dinheiro que precisa escapar do sistema formal para cumprir sua função subterrânea.
Os deputados federais Carlos Jordy (PL-RJ) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) foram os alvos de buscas e apreensões da Polícia Federal na última semana por suspeita de desviar dinheiro da cota parlamentar, onde, parte dos recursos teria sido usado para despesas inexistentes com empresas de fachada, entre elas uma locadora de veículos, com uso de funcionários para simular contratos. A investigação chegou às lideranças do Partido Liberal na Câmara após outra ação da PF mostrar que assessores dos parlamentares movimentaram R$ 27 milhões e, em troca de mensagens, a suspeita do envolvimento dos deputados.

No flat de Sóstenes Cavalcante quase R$ 470 mil em dinheiro vivo em um saco preto dentro do armário. O deputado tentou justificar e negou irregularidades. Disse que o dinheiro é lícito, da venda de um imóvel em Minas Gerais e já declarado no Imposto de Renda, mas não apresentou documentos da transação e muito menos quando fechou o negócio. Para ele, não ter depositado em um banco foi "um lapso". Ele e Jordy agora terão que comprovar, diante das acusações, que estão limpos e não mergulhados na mesma lama da corrupção que tanto usam para atacar adversários.
Antes dele, houve o dinheiro na cueca. Em 2005, no auge do escândalo do mensalão, José Adalberto Vieira da Silva, assessor do então deputado José Guimarães (PT), foi preso no aeroporto de Congonhas com dólares escondidos na roupa íntima e uma maleta recheada de reais. Quinze anos depois, já sob outro governo e outro campo político, a cena se repetiu com requintes ainda mais constrangedores: o senador Chico Rodrigues, aliado do então presidente Jair Bolsonaro, flagrado pela Polícia Federal com maços de dinheiro escondidos entre as nádegas. A descrição oficial da PF dispensou metáforas — a imagem falou sozinha.
Entre esses dois episódios, o país assistiu a outros símbolos difíceis de apagar. Rodrigo Rocha Loures, assessor de Michel Temer, correndo pelas ruas de São Paulo com uma mala contendo R$ 500 mil, no episódio que ficaria conhecido como Joesleygate. Pouco depois, Geddel Vieira Lima, ministro em governos de espectros distintos, associado a um apartamento em Salvador onde a Polícia Federal encontrou R$ 51 milhões empilhados em malas. Meias, cuecas, sacolas, caixas, malas. O roteiro se repete com uma insistência quase pedagógica.
Esses episódios não têm cor partidária nem ideologia definida. Eles atravessam governos de esquerda, de direita e de centro, expondo um traço estrutural da política brasileira: quando o dinheiro precisa circular sem deixar rastro, ele abandona o banco e reaparece no corpo, no armário, no porta-malas. O método muda pouco porque a lógica é a mesma. O dinheiro vivo não é escolha estética; é instrumento. Serve para escapar da rastreabilidade, para contornar controles, para manter zonas de sombra onde o poder opera com menos resistência.
É nesse contexto que o “saco preto” ganha força simbólica. Ele não choca apenas pelo valor envolvido, mas por ativar uma memória coletiva já saturada de escândalos semelhantes. O eleitor não analisa cada caso como se fosse o primeiro; ele os empilha mentalmente. A nova imagem conversa com as antigas, reforçando a sensação de que existe um padrão que sobrevive a trocas de governo e a discursos morais antagônicos.
As tentativas de defesa, nesse cenário, esbarram em um limite claro. Coletivas, notas técnicas e explicações jurídicas até podem resolver pendências processuais no futuro, mas não apagam o impacto imediato da imagem. O cidadão comum não compara artigos de lei; ele compara cenas. E, ao comparar, percebe que a coreografia do dinheiro escondido se repete com assustadora regularidade, independentemente de quem esteja no poder.
O caso também desmonta uma das narrativas mais recorrentes da política contemporânea: a ideia de que a corrupção é atributo exclusivo de um campo ideológico. A história recente demonstra o oposto. O que existe é uma cultura política que tolera, normaliza e, em certos momentos, até espera que o poder tenha um “lado B” operacional. Quando esse lado B vem à tona, o discurso muda, mas o espanto já não é total — é misturado com cansaço.
O efeito mais profundo disso não é apenas a indignação momentânea, mas a erosão contínua da confiança pública. A repetição dessas imagens empurra parte da sociedade para o cinismo: se todos parecem iguais, se todos acabam associados a sacos, malas ou cuecas, então a política deixa de ser espaço de escolha racional e passa a ser território de torcida. É o pior cenário para a democracia, porque substitui a cobrança por resignação.
O “saco preto”, portanto, não é um ponto fora da curva. Ele é mais um capítulo de uma longa narrativa visual da corrupção brasileira. Uma narrativa que insiste em mostrar que o problema não está na cor da bandeira partidária, mas na permanência de práticas que resistem à transparência, à tecnologia e ao escrutínio público. Enquanto essas práticas continuarem operando nas sombras, novas imagens surgirão — e cada uma delas reforçará a sensação de que o país ainda não conseguiu fechar as malas do seu passado.
O que dizem os deputados e o que ficou sem resposta na Operação Galho Fraco
Carlos Jordy (PL-RJ)
Alvo da operação por suspeita de participação em um esquema de desvio de recursos da cota parlamentar, Carlos Jordy adotou uma linha de defesa centrada na ideia de perseguição política. Em declarações públicas, afirmou que a empresa investigada presta serviços ao seu gabinete desde o início do mandato e negou qualquer irregularidade. Também buscou humanizar o episódio ao destacar aspectos pessoais, como o fato de a operação ter ocorrido em data sensível para sua família.
O problema dessa estratégia é que ela pouco dialoga com o núcleo da investigação. Jordy não apresentou, até agora, esclarecimentos objetivos sobre a suposta existência de despesas inexistentes, o uso de empresas de fachada nem sobre a atuação de assessores citados pela Polícia Federal como operadores do esquema. Sua defesa apostou mais no discurso político do que na resposta factual aos indícios levantados.
Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)
No caso de Sóstenes, o dano político foi ainda mais profundo. O deputado confirmou ser alvo da operação e tentou explicar a apreensão de cerca de R$ 400 mil em dinheiro vivo, alegando que o valor seria resultado da venda de um imóvel. A explicação, no entanto, abriu mais brechas do que fechou dúvidas. Estranhamente o motorista do parlamentar foi descrito como "empresário", mas que recebia R$ 4 mil para trabalhar dirigindo para o líder do PL na Câmara.
Sem perceber, Sóstenes acabou se entregando ao admitir publicamente que um carro alugado com recursos da cota parlamentar era utilizado por sua filha no Rio de Janeiro. A filha não exerce função pública nem integra o gabinete, o que levanta suspeita direta de desvio de finalidade no uso de dinheiro público. A tentativa de naturalizar o fato transformou-se em confissão política de uso privado de um bem custeado pelo Estado.
Além disso, a coletiva deixou uma série de perguntas sem resposta, que continuam pesando mais do que qualquer discurso defensivo:
– Qual foi, de fato, a origem dos recursos usados para a compra e a venda do imóvel, considerando a evolução patrimonial declarada?
– Por que uma transação imobiliária de alto valor teria sido realizada integralmente em dinheiro vivo, fora do sistema bancário?
– Por que os maços de dinheiro estavam lacrados, sem sinais de manuseio ou contagem?
– Onde ocorreu a entrega do dinheiro e quem participou da operação?
– Por que manter uma quantia tão elevada em espécie dentro de casa, assumindo riscos óbvios?
– Como se explica a movimentação milionária de pessoas próximas, incompatível com as rendas conhecidas?
– Quem foi o comprador do imóvel citado e por que sua identidade não foi revelada?
– Como a operação já estaria declarada no Imposto de Renda se o exercício fiscal ainda não permite tal registro?
No conjunto, as explicações oferecidas pelos dois deputados não enfrentaram o cerne das investigações. Jordy optou por uma narrativa política de vitimização. Sóstenes, ao tentar justificar o injustificável, acabou agravando sua situação ao admitir práticas que ferem o princípio básico da administração pública: o uso do dinheiro do contribuinte exclusivamente para fins públicos. Em um cenário já marcado por forte desgaste simbólico, as lacunas deixadas falam mais alto do que as versões apresentadas.
Fonte: Portal A10+